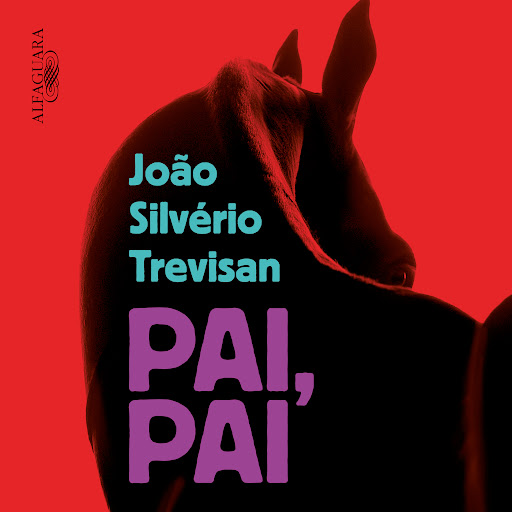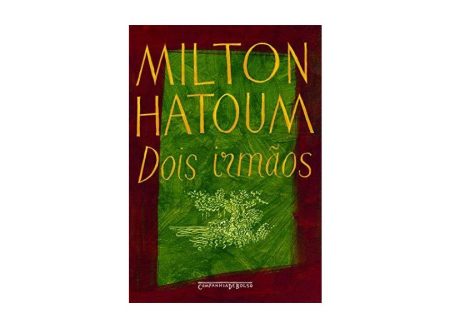Confesso que procurei muito por um título adequado porque “pai” é um dos temas mais sensíveis de minha agenda emocional. E não pretendia ser desmancha prazer em uma celebração que merece festa. Mas também não queria ser repetitivo ecoando o óbvio. Isto me fez retomar a gênese de meu interesse. Toda criança sonha ser alguém destacado: jogador de futebol, artista… Mesmo os mais corriqueiros falam em se tornar médicos, engenheiros, advogados (recentemente, astronautas, especialistas em inteligência artificial ou chef). Comigo foi diferente, mesmo antes de me definir pela docência, criança ainda, sempre quis me tornar pai, o melhor do mundo.
Caçador de mim, ao longo da vida colecionei canções, poemas e sobretudo livros afeitos às relações de pais e filhos. Depurei reflexões e, finalmente guiado por alguma literatura, cheguei a um termo: “Pai problema, Pai solução”, e explico-me na trilha da paternidade redentora. Quando doei minha biblioteca para a UNIFESP, fiz questão de manter volumes sobre pais e filhos. Guardei, por exemplo, entre outros, “Memórias Póstumas de Brás Cubas” – não consegui me desvencilhar daquele acerto final, do personagem morto. Nem sei dizer o que causou em mim o livro de Milton Hatoum, “Dois Irmãos”, pois sendo filho de libaneses, vi minha experiência familiar enquadrada naquela moldura familiar. Se alguém me pedisse um único texto autobiográfico aproximando pai e prole “O Filho Eterno” de Cristóvão Tezza seria o eleito dada a dificuldade de um progenitor cuidando do filho com síndrome de Down. E não só esse, pois mesmo sendo pai de três homens, me comovi com “Pai de menina” do apresentador Marcos Mion, e até com o pai de primeira viagem, Marcos Piangers, com o ingênuo “O papai é pop”. Dia desses, me surpreendi apresentando uma lista de textos imperdíveis e fiz questão de colocar nos primeiros lugares o “Quase memória” do Carlos Heitor Cony, páginas contando a incrível proeza do personagem-filho que recebeu no sepultamento do pai um pacote com cromos fundamentais para explicar a vida familiar.
“Moldura de minha experiência pessoal”
É claro que, além da literatura brasileira, bibliotecas seriam compostas por essa temática, mas devo revelar que leitor assíduo, acho que jamais encontraria um texto capaz de bater o doído “Pai, pai” de João Silvério Trevisan, lançado em 2017. Tudo nesse livro é arrebatador, a começar pela dramática capa. As páginas seguintes são perfurantes e nelas nada mais grave do que a problematização de sentimentos que se arriscam na contramão exaltativa.
Diria, sem medo de errar, que todos os textos lidos sobre a sagração temática pai/paternidade até então serviriam como conforto para o “Pai, pai”. Aliás, assumindo riscos do exagero, diria que poucos escritos arrancaram tanto sobressalto como o sofrimento do menino submetido a um destino amaldiçoado vida afora. Sabe aquele livro que você tem que interromper a leitura para sorver a dor e derreter a indignação? Pois é este: a definição de um progenitor bêbado, violento, agressivo, uma epopeia de falsidades que obriga o leitor a tomadas de fôlego. O ingresso precoce aos 10 anos num convento foi prenúncio de uma vida de muitas outras fugas, algumas de alcance coletivo, como a saída do Brasil por motivos políticos. As cogitações sobre a própria orientação sexual se misturam com temas da cultura ampla que, de maneira tramada, explicam o menino do interior paulista moído nas engrenagens da crescente globalização. Certamente, contudo, o mais surpreendente das 252 páginas é a lavagem do ódio tornado perdão. Isso é arrebatador.
“Tudo que meu pai me deu foi um espermatozoide”, João Silvério Trevisan
A primeira frase do livro equivale a um soco no estômago, convite ao abismo, gole de fel: “Tudo que meu pai me deu foi um espermatozoide”. O meio do livro é de doloroso afastamento do pai, “presença ausente”, mas o fim retoma o trajeto vivencial e purifica mágoas sintetizadas no dizer derradeiro: “Meu pai me deu um espermatozoide, e assim eu gerei um pai”. Chorei… Chorei pela coragem do reconhecimento rasgado de clichês e gratidões culpadas.
A viagem empreendida entre um ponto e outro, entre a abertura e o epílogo do “Pai, pai” contrasta com os conteúdos comuns e românticos, exaltativos de paternidades sempre exibidas sem charadas ou meandros críticos, santificadores. A transformação do julgamento sobre uma história como esta serve de roteiro para o perdão de tantos que fogem do figurino do pai fidalgo, benevolente e cheio de exemplos legados sem crítica. Por paradoxal que pareça trata-se de um livro positivo. Positivo sobretudo porque afinal exalta a paternidade refinada pela dor e pela complexa superação das diferenças. E tanto depura que equivale reconhecer que qualquer relação pai/filho implica repensares que carregam em si a fiação de fiapos soltos. E tudo leva à humanização de pais que corrigem rotas tortuosas, pois, afinal, que pai nunca errou?