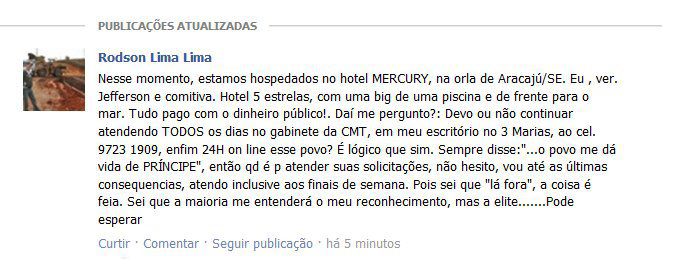Quatro anos é pouco para botar um país nos eixos, mas tempo de sobra para acertar o tom
Na equipe de transição de todo governo, deveria haver uma turma de carpinteiros. Caberia a eles, ainda antes da posse, desmontar o palanque. As peças seriam encaixotadas, e as caixas trancadas a cadeado — daqueles com temporizador, para só permitir a abertura daí a quatro anos.
Isso evitaria no governante a tentação de permanecer encarapitado no púlpito, microfone em punho, agarrado às promessas que não cumprirá. Sem o pedestal, só lhe restaria pôr os pés no chão e governar.
Figurinistas também seriam fundamentais. Trajes, acessórios e adereços de campanha (bandeiras, bonés, camisetas) voltariam para o armário, onde ficariam guardados a sete chaves. Um novo figurino — o de estadista — entraria em cena, em substituição ao de candidato.
Iluminadores se encarregariam de jogar nova luz sobre o eleito. Sem tantos filtros, sem áreas de sombra. Apaga-se a luz cênica — a dos truques de mágica, feita para esconder, desviar a atenção — e acende-se outra, aquela dos centros cirúrgicos.
Um bom cenógrafo vetaria o uso de cercadinhos — tanto os de gradis de alumínio para militantes, na calçada, quanto os de sofás, nos salões, para entrevistas chapas-brancas. Esse profissional saberia que a fase de picadeiro ficou para trás e que a plateia agora é o país inteiro.
Equipe de transição de Lula reunida antes durante governo de Bolsonaro
Vencida a etapa de transição, seria de bom alvitre incluir na equipe um roteirista. Não para criar um personagem (que já existe e deve ser bom — tanto que pareceu verossímil a milhões de eleitores), mas para evitar que ele se perca no papel. Para lembrá-lo de que há um roteiro (também conhecido como “programa de governo”) a seguir. Um arco dramático (e bota dramático nisso!) que vai do rescaldo de uma calamidade até a reconciliação de um povo consigo mesmo.
Uma figura arcaica e praticamente extinta pode ser de grande valia nessa trupe: o ponto. Uma espécie de grilo falante — ou superego bonzinho — que sopre no ouvido do ator-governante aquilo que — por falha de memória, de convicção ou de caráter — ele pareça ignorar, mas que estava bem claro no script. Perdão, majestade, mas teorias de conspiração e as feiquenius pertencem a eles — essas coisas quem diz é o vilão, esqueceu? Desculpe, milorde, mas esse vocabulário chulo acaba nos colocando no mesmo nível daquele a quem nos queríamos mostrar superiores. Não, Excelência, não é hora de falar em vingança — o amor venceu, lembra?
Mesmo o ator mais tarimbado tropeça. Tem um branco. Erra a marcação. Protagonista, descuida de abrir espaço aos coadjuvantes. Cai na armadilha de atuar apenas para a fila do gargarejo. E se encanta com os próprios cacos, em prejuízo da dramaturgia que a plateia esperava ver.
Nada que não se possa corrigir ao longo da temporada — quatro anos é pouco para botar um país nos eixos, mas tempo de sobra para acertar o tom.
Tudo fica mais complicado quando o ator principal é, também, autor, diretor e animador da claque. Mas, enquanto o público pagante — que, por acaso, é o dono do teatro — não começar a vaiar, a atirar ovos e tomates, dá para salvar o espetáculo. E impedir que a peça anterior, de triste memória, entre de novo em cartaz.
Podiam começar chamando os carpinteiros para desmontar o palanque.