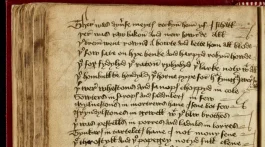Mas existe isto? Racismo cordial, como assim? Por definição qualquer ato racista é excludente e expressão de violência física ou cultural. A primeira manifestada pela força bruta; a segunda por práticas amiudadas no trato corriqueiro. E de saída recomenda-se pensar que nossa raiz racista é tão velha como a exploração econômica que efetivou a escravização negra que, iniciada em 1535, atravessou 353 anos, até 1888, implicando cerca de 5 milhões de cativos.
Cadenciados pelo processo abolicionista que nos situa na rabeira, produzimos uma prática perversa enquadradora de lugares sociais: “cada macaco no seu galho”, “trabalho de preto”, “cada qual no seu quadrado”. E assim, inventamos um tratamento perversamente ameno, justificado num tropicalismo bobo, deitado no berço esplendido de suposta democracia racial. Seria ingênuo, contudo, dizer que não reconhecíamos a questão. Até como defesa, para garantir a aparência contrastante, em vez de contemplar nossas mazelas, anotamos a existência do racismo como algo exótico, coisa de fora.
A obsessiva comparação com manifestações norte-americanas, por exemplo, tem servido de parâmetro para nos entreter. Como se fôssemos espectadores, nos expressamos com horror e até nos aplaudindo pelo avesso disso, exaltando-nos “moreninhos”, colaborativos, com toques de permissiva malandragem. E fartamos de assinalar “contribuições”: no samba, no futebol, nas comidas, na religiosidade e trejeitos. Assim nos esquecemos que lá foram cerca de 10 % do nosso total e que aquele processo se iniciou décadas depois do nosso, em 1619.
Martin Luther King, um ícone da luta contra o racismo
Demorou até que assumíssemos que o virus do preconceito também nos acomete, ainda que por razões históricas desiguais. As treze colônias do norte foram povoadas por pioneiros que logo trataram de institucionalizar a distinção entre senhores e subalternos. Por aqui, a aparente informalidade nuançou diferenças, mascarando agressividades sempre notadas como pontuais. Lá, como motivo constante de conflitos entre o norte e o sul, o tema da abolição compôs razões da Guerra da Secessão (1861 – 1865). Definido o vencedor, um conjunto de normas – Leis Jim Crow – detalhou lugares sociais e assim, sob o rigor legal, os negros norte-americanos se emprenharam numa pauta de direitos a conquistar. No Brasil, na fluidez do cotidiano controlado por brancos e por uma cultura contornadora de diferenças, sequer articulamos elementos capazes de reconhecer o alongado supremacismo branco.
Recentemente, engrossando a voz, o movimento negro brasileiro se ergueu propagando feroz campanha contra Monteiro Lobato, propondo combate sistemático ao criador do Sítio do Picapau amarelo. Como rastilho de pólvora, o tema ganhou público que logo se dividiu em pró e contra. De maneira despreparada e até surpresos, os defensores de Lobato entabularam um discurso defensivo negando racismo na obra daquele que é um dos cinco mais lidos autores nacionais. Nesse compasso, a carência prévia de argumentos sobre o jeito brasileiro de ser racista se apresenta como denunciador do despreparo para o debate sobre esse efervescente dilema.
Sim Lobato foi racista, não há como ou porque negar, e o foi como era a maioria de uma geração banhada pelos modos eugênicos em voga. A saúde do entendimento da questão, porém, pressupõe contextualização histórica. A questão que ressalta, e ainda não foi sequer bem formulada, é: qual o tipo de racismo lobateano? Certamente não nos ajuda valores da cultura norte-americana, pois trata-se de manifestação historicamente diferentes, ainda que lá também livros da literatura infantil sejam apedrejados – como é o caso de “Tom Sawyer” de Mark Twain.
No ambiente brasileiro, mais do que propor retocar a obra, substituir passagens, trocar palavras, cabe pensar que o evidente racismo de Lobato respondia a uma dinâmica que apontava saídas. O incomensurável esforço pela educação é mostra de que, pela educação escolar, a questão racial poderia ser assumida de maneira política com indicações de integração. A literatura, nesse diapasão, seria a chave capaz de indicar caminhos e daí a incessante campanha de Lobato pela difusão da leitura. As muitas referência ao negro Machado de Assis – e Lobato foi dos primeiros a não lhe negar o tom da pele – mostram a estratégia lobateana para pensar um novo ethos brasileiro, civilizado pelo conhecimento.
É lógico que todo racismo é crime, mas crime tão grande – ou maior – é não reconhecer alternativas, no caso de Lobato, instruídas por leituras críticas, na complexidade histórica, e em diálogo com leitores que poderiam propor respeito e abolição de novos preconceitos que, aliás, se limitam em propor cancelamentos que, afinal, implicariam recalques e não resolveriam o drama.